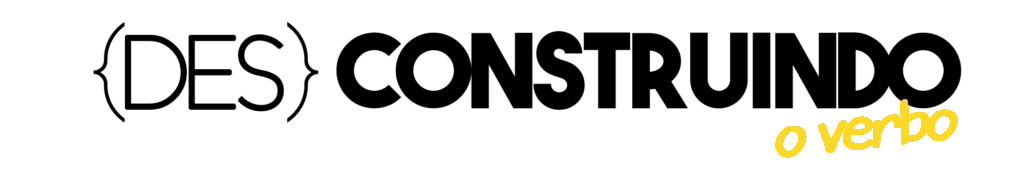Convenhamos, o show de horrores do universo Marvel já nos acostumou a uma certa dose de fadiga. Filmes que parecem episódios esticados, séries que são recortes de roteiros maiores e a sensação constante de que estamos presos num ciclo de produções feitas sob medida para quem coleciona Funko Pop. Mas, de vez em quando, no meio de tanto “mais do mesmo”, a Marvel saca um coelho da cartola que faz a gente levantar a sobrancelha, tipo: “ué, isso aqui é bom mesmo?”. E geralmente, meus caros, esse “bom mesmo” vem das produções que “ninguém pediu”.
Pensemos em Agatha Desde Sempre. Uma série sobre uma vilã secundária, com um conceito de sitcom que, em tese, era para ser a piada do ano. E eis que a bruxa se revela uma das coisas mais frescas e inventivas que o estúdio produziu em anos. Subversiva, criativa, com um timing cômico impecável. Agora, peguemos essa mesma energia e joguemos em Coração de Ferro. Uma série que já nasce sob o olhar torto de quem não suporta ver uma protagonista que não seja o homem branco padrão, salvador da pátria, com problemas dignos de um clube de golfe. E sabe o que acontece? Enquanto essa turma esbraveja nas redes sociais sobre “lacração” e “agenda”, eles estão perdendo o que talvez seja uma das joias mais reluzentes e autênticas da safra recente. Sorte a nossa, que não vivemos de polêmica vazia.
Leia também: “Demolidor: Renascido”: O MCU tentando ser sombrio e quase convencendo – 1ª Temporada {Crítica}
A Forja de Uma Gênia
A gente conhece Riri Williams (Dominique Thorne) desde Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Uma gênia, sim, mas ainda uma garota. E Coração de Ferro mergulha fundo nessa dicotomia. Esqueça o legado do playboy milionário que se veste de ferro; aqui, a armadura é construída com suor, talento e um bocado de sacrifício. Riri não tem o cofre do Tony Stark. Ela é uma jovem afro-americana, estudante do MIT, com o tipo de cérebro que deixaria até os professores dela repensando suas certezas científicas. Aos 19 anos, ela detecta Vibranium e começa a construir uma armadura inspirada no legado do Homem de Ferro. Mas nada disso com patrocínio ou apoio institucional: Riri é expulsa do MIT depois de vender “cola” tecnológica pros colegas em troca de grana pra comprar peças. Com o sonho parcialmente desmontado (mas nunca abandonado), ela volta pra Chicago, sua cidade natal, e termina a armadura na cozinha de casa – sem laboratório high-tech, sem IA que serve café, só com a urgência de quem não pode esperar aprovação nenhuma pra começar a mudar o mundo.


É nessa arena de recursos finitos e genialidade explosiva que entra Parker “The Hood” Robbins (Anthony Ramos). Um vilão que não é bem vilão, um cara com carisma de sobra e uma proposta irrecusável: “Precisa de grana pra turbinar seu traje? Vem com a gente. A gente só… faz umas coisas erradas.” E é aí que a série mostra a que veio. Riri não é uma santa. Ela não tem aquele brilho angelical de heroína de conto de fadas. Ela é complexa, cheia de falhas, e, sim, um pouco arrogante. Mas quem, no lugar dela, não seria? Uma mente que vê soluções onde outros veem problemas, que é constantemente diminuída pelo mundo à sua volta, que se cansa de ser ignorada. Ela quer usar sua inteligência para revolucionar a segurança, para que “a ajuda nunca seja tarde demais”, um desejo que ecoa a dor de ter perdido o padrasto e a melhor amiga. E, para isso, ela está disposta a fazer umas… “curvas” no caminho da moralidade.
Chicago, aliás, é quase um personagem da trama. O cenário não serve só de pano de fundo, ele pulsa com a história, se infiltra nas decisões, nos dilemas, nas dores. Isso não é comum nas produções da Marvel, que muitas vezes preferem o vago “em qualquer lugar do mundo” do que o concreto de uma cidade com identidade. Aqui, a cidade vive, reage, responde.
O coração de Coração de Ferro
Riri é uma das personagens mais autênticas da Marvel justamente por não ser perfeita. Ela tem alma de heroína, o desejo de proteger quem ama, mas não tem problemas em fazer o certo por linhas tortas. Riri não é só uma gênia: ela é uma adolescente de luto, ansiosa, impulsiva e com uma autoestima que oscila mais que a bolsa de valores. Ela quer fazer o certo, mas nem sempre ela está fazendo o certo de fato, e tudo bem. A genialidade dela convive com a imaturidade de uma adolescente que ainda não beijou na boca. Ela constrói uma armadura na cozinha, mas acha uma ótima ideia se juntar a criminosos. É essa dualidade que a enriquece, que a torna mais real que muito herói de moral inabalável.
E talvez aí esteja sua força: não existe uma Riri perfeita, só uma Riri possível. E isso, dentro da lógica geralmente maniqueísta dos heróis, é quase revolucionário. A busca de Riri por seu traje não nasce da bravura, mas da dor. Da perda. Ela tem ataques de pânico, paranoia, flashbacks, tudo brilhantemente transmitido pela atuação poderosa de Thorne.


A amizade com Natalie (Lyric Ross) é o pilar emocional da série. Desde os flashbacks até os momentos em que a IA que carrega a memória dela entra em ação, tudo é carregado de afeto e complexidade. É uma amizade real: com apoio, frustração, cutucadas e saudade. Tem até palminhas de deboche entre as duas — e quem nunca, né?
E tem também um cuidado estético e emocional que vale destacar: as mudanças visuais durante as crises de pânico de Riri são delicadas e precisas. A forma como o som desaparece, como a imagem treme, como o foco se dissolve. Isso não é só estilização, é narrativa sensorial. É mostrar como o luto e a ansiedade não seguem lógica, nem cronograma.
Preta, nerd e sem tempo pra agradar ninguém
A coisa mais deliciosa de Coração de Ferro é como a série é, para usar a expressão mais perfeita, “preta pra caramba”. E não é uma negritude imposta, uma cota, uma agenda. É uma negritude que transborda, que pulsa em cada cena, em cada diálogo, em cada escolha de trilha sonora. Liderada por uma equipe de mulheres negras talentosíssimas nos bastidores, a série é um banho de cultura, de vivência, de nuances.
Tem Chaka Khan embalando cena de luta, tem mãe de Riri gritando sobre porta batendo ou desejando “axé” pra Inteligência Artificial. A negritude aqui é uma mãe e as amigas recomendando cristais para limpar a aura da filha; são duas amigas curtindo um show de rap local; é uma hacker não-binária feroz invadindo sistemas complexos sem quebrar uma unha. É a beleza, a profundidade e a amplitude da experiência negra sendo mostrada com dignidade, humor e muito charme.
Importante porque não é só sobre “diversidade” de casting, mas sobre uma perspectiva estética e narrativa que parte de outra lógica. Em vez de reproduzir o molde já gasto dos heróis messiânicos, a série entrega uma protagonista que é contraditória, que toma decisões erradas, que é arrogante às vezes — e que ainda assim, ou talvez por isso, é profundamente carismática.


Uma trama contida (e por isso, muito mais interessante)
A série ganha pontos por não se perder em ameaças globais. Não tem vilão querendo dominar o mundo ou destruir a cidade inteira. A trama é contida, intimista. Não tem ameaça global, não tem céu se abrindo em roxo, nem portais com 70 heróis correndo em slow motion. A trama é menor — e melhor. Porque quando a ameaça é local, os dilemas também são mais palpáveis. E, sinceramente, já deu de salvar o mundo se você não consegue nem lidar com a própria dor e é exatamente essa escala menor que a torna gigante.
E embora faça parte do MCU e Riri tenha sido apresentada em Pantera Negra 2, Coração de Ferro não se curva a isso. Ela é independente. Tem conexões com outros personagens? Tem. Mas não depende delas. Uma pessoa que nunca viu um filme da Marvel conseguiria assistir e se apaixonar por Riri e sua história sem se sentir perdida em um mar de referências. Isso é um mérito e tanto.
Efeitos práticos, lutas sujas e uma trilha afiada
Outro acerto inesperado: a série tem cara de série. Parece óbvio, mas não é. Nos últimos anos, a Marvel se esforçou pra fazer séries que pareciam filmes esticados em seis episódios — e o resultado quase sempre era um Frankenstein esquisito. Coração de Ferro, ao contrário, tem ritmo próprio, tempo próprio, identidade própria.
A coreografia das lutas é um capítulo à parte, elas não são coreografias elegantes de balé marcial. São improvisadas, sujas, rápidas. Riri não é uma lutadora habilidosa no sentido clássico, mas ela pensa rápido. Ela usa o ambiente a seu favor, transforma cada obstáculo em uma vantagem. Sem desperdício. Ela é uma inimiga formidável mesmo sem o traje, e isso é um sopro de ar fresco num gênro onde a força bruta muitas vezes ofusca a inteligência tática.
Visualmente, a armadura tem um charme caótico: dá pra ver que ela foi construída na raça, na gambiarra, com peças reaproveitadas. Não é o brilho reluzente da Stark Industries. É engenharia de sobrevivência.
Quando o superpoder é ser complexa
Riri é o tipo de personagem que a Marvel evitou por anos: alguém que não cabe em categorias. Não é 100% boazinha, mas também não é anti-heroína poser. Ela quer proteger quem ama, mas também quer ser reconhecida, ser livre, ser grande. E isso gera conflito. Gera erro. Gera consequência. E, finalmente, gera história.
A série, no fim, é sobre isso: a dificuldade de fazer o certo quando tudo ao seu redor te empurra pra desistir. A tentação de resolver as coisas pelo caminho mais curto. A escolha entre ser lembrada ou ser verdadeira. E a necessidade — muito real — de errar antes de acertar.
Riri é ética quando dá, quando consegue, quando faz sentido. Ela entra pra gangue do Capuz porque precisa de recursos. Ela constrói armas e armaduras com objetivos que nem sempre são totalmente altruístas. E tudo bem. Porque genialidade não é sinônimo de maturidade. E porque uma garota de 19 anos que nunca nem beijou na boca pode, sim, construir uma armadura de vibranium e ainda assim fazer merda.


Aliás, dois personagens que merecem atenção especial são Joe McGillicuddy (Alden Ehrenreich) e Parker “The Hood” Robbins (Anthony Ramos). A princípio, podem parecer antagonistas clássicos, mas quanto mais a trama avança, mais a série revela o que eles têm em comum com Riri: o desconforto com quem são. Joe, um inventor do mercado negro, tenta fugir do legado sombrio deixado pelo pai, enquanto Parker canaliza suas frustrações para atalhos duvidosos que mascaram uma insegurança profunda. Nenhum dos dois é vilão puro-sangue, assim como também não são heróis incompreendidos. São, como Riri, pessoas tentando fazer sentido de suas dores, falhas e histórias mal resolvidas. Quando tropeçam, não é por maldade — é por desespero, ou por não terem aprendido outro jeito de sobreviver. E é aí que a série ganha mais uma camada: mostrar que a compaixão, mesmo imperfeita, pode ser o elo entre os que erram tentando acertar e os que acertam sem nunca parar de errar.
Então, vale a pena assistir Coração de Ferro?
Vale. Não porque vai mudar sua vida ou redefinir o MCU. Mas porque é uma boa história, contada com alma. Porque tem personagens que você quer acompanhar. Porque tem cenas que você vai lembrar. E porque, no meio de tanto conteúdo fabricado pra agradar algoritmo, Coração de Ferro tem algo raro: intenção.
No final das contas, o que Riri constrói não é só uma armadura. É um espelho. E se você não consegue se ver ali, talvez o problema não seja a série. Talvez o problema seja a sua programação.
Confira o trailer de Coração de Ferro
Nos siga no instagram: @desconstruindooverbo