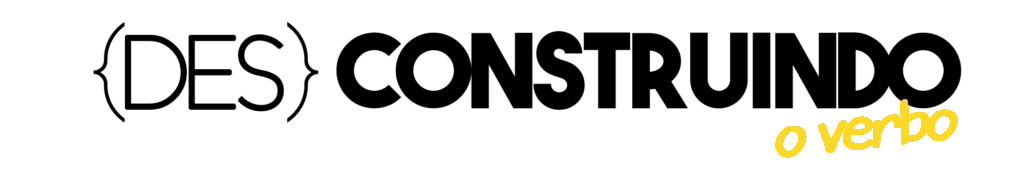Você já reparou como a gente adora transformar artistas em criaturas míticas, quase sobrenaturais, como se nunca tivessem perdido um boleto, um sono, um filho? A imagem do gênio costuma vir embalada em uma espécie de embalagem a vácuo emocional, limpa, asséptica, confortável. É mais fácil admirar alguém quando não precisamos encarar que aquela pessoa sangra. E é justamente aí que Hamnet cutuca, com uma delicadeza que incomoda mais do que muito drama barulhento.
Porque antes de qualquer discussão sobre Shakespeare, cânone, legado ou reverência cultural, Hamnet começa em um lugar bem menos solene. Começa na intimidade. Na vida doméstica. No tipo de cotidiano que raramente vira monumento. O filme não abre pedindo licença para falar sobre literatura, ele entra direto na experiência humana mais básica e mais difícil de engolir, a perda. Não há pressa em explicar, contextualizar ou justificar. Primeiro, somos convidados a sentir. E sentir, como se sabe, dá trabalho.
Leia tambem: ETERNOS: O encontro perfeito entre o humano, a sensibilidade e a arte {Crítica}
Hamnet e a escolha de olhar para onde quase ninguém olha
Sim, estamos falando de William Shakespeare. Sim, Hamlet aparece no horizonte. Mas é curioso como Hamnet faz um movimento quase herético, deslocando o foco do autor mais estudado da história ocidental para uma figura que sempre orbitou as notas de rodapé, Agnes, sua esposa. Chloé Zhao, adaptando o romance de Maggie O’Farrell, não parece interessada em alimentar a aura do Bardo Eterno. Ao contrário, o que vemos é um homem inserido em uma dinâmica familiar, afetiva, frágil, sujeito às contingências mais banais e mais cruéis.
A história se passa no final do século XVI, em uma Inglaterra assolada por pragas recorrentes, onde a morte não era exatamente uma surpresa estatística, mas continuava sendo um abalo emocional devastador. Hamnet, o filho de onze anos de Will e Agnes, morre. Esse não é um spoiler, é o eixo gravitacional da narrativa. O que importa não é o evento em si, mas as reverberações. O filme não trata a tragédia como clímax, mas como uma espécie de fenda que reorganiza tudo ao redor.
E é aí que surge uma das decisões mais interessantes de Hamnet. Shakespeare, figura que poderia facilmente sequestrar a narrativa, torna-se quase periférico em muitos momentos. A experiência central é a de Agnes. Sua percepção. Seu luto. Seu modo de existir antes e depois do impensável.


Bucólico, sombrio, estranhamente acolhedor
Chloé Zhao já demonstrou em outros trabalhos uma habilidade rara de filmar silêncios, espaços e rostos como se cada elemento carregasse uma vida secreta. Em Hamnet, essa sensibilidade encontra um terreno fértil. A vila, os campos, a textura da luz natural, tudo contribui para uma atmosfera que oscila entre o idílico e o inquietante. Não é uma reconstituição histórica exibicionista, cheia de figurinos gritantes pedindo aplausos. É um mundo que parece respirável, habitável, quase tangível.
Existe algo de paradoxal na experiência estética do filme. Ele é visualmente suave, mas emocionalmente denso. A câmera observa mais do que dramatiza. O ritmo é paciente, às vezes até desafiador para quem espera uma narrativa mais convencional. Só que essa cadência não é um capricho, ela é parte do discurso. Hamnet quer que você permaneça naquele tempo, naquela rotina, naquela vida aparentemente comum, justamente para que o impacto da ruptura não seja apenas entendido, mas sentido no corpo.
E quando a tragédia chega, não há espetáculo. Há vazio. Há desorientação. Há o tipo de dor que não cabe em trilhas sonoras enfáticas nem em discursos inflamados.
Jessie Buckley uma presença sustenta um universo inteiro
Muito pode ser dito sobre Hamnet, mas qualquer leitura minimamente honesta inevitavelmente desemboca em Jessie Buckley. Sua Agnes não surge como heroína trágica, mártir idealizada ou representação genérica de maternidade. Existe nela algo mais raro, mais instável, mais vivo. Uma vitalidade quase indomável, uma conexão visceral com o corpo, com a natureza, com uma forma de existir que parece pouco domesticável.
Desde a primeira aparição, adormecida no interior de uma árvore, Buckley estabelece uma presença difícil de capturar em definições simples. Agnes não parece exatamente introduzida na narrativa. Ela emerge. Há algo de orgânico em sua energia, como se a personagem não estivesse sendo construída diante de nós, mas simplesmente revelada. É através dela que o filme respira, que o cotidiano ganha textura, que aquele mundo se torna habitável.
E é justamente por isso que, quando a tragédia chega, o impacto se torna tão devastador.
Em algum momento, inevitavelmente, a ruptura acontece. Hamnet não a encena como espetáculo, não há manipulação emocional explícita nem engrenagens dramáticas gritando por reação. Ainda assim, o efeito é brutal. Talvez porque Zhao tenha sido paciente o suficiente para nos fazer habitar aquela vida antes de feri-la. Talvez porque já estejamos emocionalmente implicados em Agnes. Talvez porque Buckley recuse qualquer zona de conforto interpretativa.
Quando a dor irrompe, ela não vem filtrada ou estilizada. Ela explode. Há um grito, cru, dilacerante, que atravessa o filme de maneira quase violenta. Um instante desconcertante, fisicamente incômodo, que não parece ensaiado, mas arrancado de algum lugar profundamente visceral. Saber que o momento foi improvisado pela atriz apenas intensifica a sensação de estarmos diante de algo perigosamente real.


É uma cena que não se observa com distância segura. Ela atinge.
Curiosamente, é depois dessa explosão que a interpretação assume outra textura. A dor deixa de ocupar o espaço como impacto e passa a habitar o corpo. Surge nos silêncios prolongados, nos gestos drenados de energia, na presença de alguém que continua existindo, mas já não exatamente no mesmo mundo. Buckley traduz o luto como uma experiência mutável, algo que se infiltra, que desloca, que altera até mesmo a maneira de respirar.
É difícil falar dessa parte sem soar exagerado, mas a experiência de assistir ao filme torna-se genuinamente dolorosa. Não daquele tipo melodramático previsível, mas de um jeito silencioso, quase físico. Em vários momentos, a reação do espectador parece escapar ao controle racional. As lágrimas simplesmente surgem.
Existe algo de implacável na maneira como Hamnet nos arrasta para dentro da dor de Agnes. Não observamos o sofrimento à distância. Somos engolidos por ele.
E aqui cabe uma admissão muito honesta. Provavelmente nunca mais vou assistir a esse filme novamente.
Não por falta de admiração, muito pelo contrário. Mas porque certas obras cobram um preço emocional alto demais. Hamnet não é o tipo de filme que se revisita casualmente. Ele é o tipo de experiência que se atravessa.
Jacobi Jupe, como Hamnet, também merece atenção. Sua performance é marcada por uma delicadeza que escapa de qualquer caricatura sentimental. Há sensibilidade, doçura, uma vulnerabilidade silenciosa que jamais se converte em artifício. Não é difícil compreender por que o menino, mesmo na ausência, transforma-se no centro emocional invisível de todo o filme.
Amor, ambição e as pequenas fraturas do cotidiano
Antes da devastação, Hamnet dedica tempo à construção da dinâmica familiar. Vemos o encontro de Will e Agnes, o estranhamento inicial das famílias, a convivência, os atritos, os afetos. Paul Mescal interpreta Shakespeare sem reverência excessiva, como um jovem dividido entre o desejo de oferecer algo melhor à família e a pulsão quase egoísta da vocação artística.
O casamento não é romantizado de forma ingênua. Há paixão, cumplicidade, mas também tensões, frustrações e distâncias. A decisão de Will de partir para Londres carrega tanto promessa quanto ameaça. De um lado, a possibilidade de realização. De outro, a erosão silenciosa da vida compartilhada.
Essa dimensão é crucial, porque impede que o filme reduza seus personagens a arquétipos simplistas. Ninguém ali é apenas vítima, apenas culpado, apenas santo. São pessoas tentando existir dentro das limitações do seu tempo, das suas escolhas, das suas próprias contradições.


Hamnet não é sobre Hamlet, e isso é precisamente o ponto
Existe uma provocação implícita no próprio título. Hamnet, como o filme faz questão de lembrar, era uma variação do nome Hamlet. A associação é inevitável, quase automática. No entanto, a obra não se organiza como uma investigação literal sobre a gênese da peça. Não estamos diante de um “e se” biográfico simplório.
O que Hamnet propõe é algo mais sutil. Uma reflexão sobre como experiências íntimas, perdas e fissuras emocionais podem se infiltrar na criação artística. Não como causalidade mecânica, mas como substrato existencial. A arte surge menos como explicação e mais como tentativa de metabolizar o incompreensível.
No ato final, quando a peça finalmente aparece, o efeito é curioso. Para alguns, pode soar como uma conclusão arrebatadora. Para outros, como a confirmação de uma sensação incômoda, a de que tudo o que veio antes funcionava quase como um longo prólogo emocional. Paradoxalmente, um dos maiores trunfos do filme, a força do desfecho, também pode ser lido como seu ponto mais discutível.
Ainda assim, é difícil negar a coerência do gesto. Zhao parece menos interessada em equilíbrio estrutural clássico e mais em impacto sensorial e simbólico.


O luto, essa experiência que ninguém sabe viver
Em um nível mais profundo, Hamnet é uma meditação sobre o luto. Não o luto estilizado, cheio de frases prontas e epifanias edificantes, mas o luto real, confuso, às vezes até constrangedor em sua crueza. O filme observa como a dor reorganiza relações, distorce percepções e esvazia significados que antes pareciam sólidos.
Há algo de perturbadoramente familiar nessa representação. Guardadas as devidas proporções históricas, qualquer pessoa que já tenha atravessado uma perda reconhece aquele território emocional. O mundo continua funcionando, as tarefas permanecem, os dias passam. Só que tudo parece deslocado, como se a realidade tivesse sido levemente desalinhada.
Hamnet entende que a tragédia não é apenas um evento, mas uma condição que se prolonga, infiltra-se, modifica. E talvez seja por isso que o filme resista a soluções fáceis ou catarse convencional.


Entre a poesia e a carne
O que Chloé Zhao realiza aqui é um equilíbrio delicado entre lirismo e materialidade. O filme é atravessado por uma sensibilidade poética, mas nunca perde de vista a dimensão concreta da existência. Corpos cansam. Doem. Envelhecem. Morrem. Não há abstração confortável.
Ao mesmo tempo, a obra sugere que, diante do insuportável, a linguagem simbólica, artística, narrativa, pode se tornar uma forma precária, porém necessária, de elaboração. Não como redenção, mas como possibilidade de continuar respirando.
E depois que os créditos sobem?
Ao final de Hamnet, fica menos uma resposta e mais um estado de inquietação. O filme não pede reverência nem oferece consolo. Ele apenas coloca o espectador diante de uma constatação desconfortável, por trás de qualquer obra monumental, existem vidas ordinárias, afetos frágeis, dores privadas.
Talvez a pergunta que reste não seja sobre Shakespeare, nem sobre Hamlet, nem mesmo sobre a fidelidade histórica. Talvez a questão mais incômoda seja outra. Quantas histórias continuam invisíveis porque preferimos mitos a pessoas? E, indo um pouco além, o que fazemos nós, meros mortais, com as perdas que não podem ser transformadas em arte, em peça, em filme?
Hamnet não resolve nada. E justamente por isso permanece. Como certas experiências da vida, ele não termina quando acaba. Ele ecoa, silencioso, em algum lugar entre a memória e o desconforto.